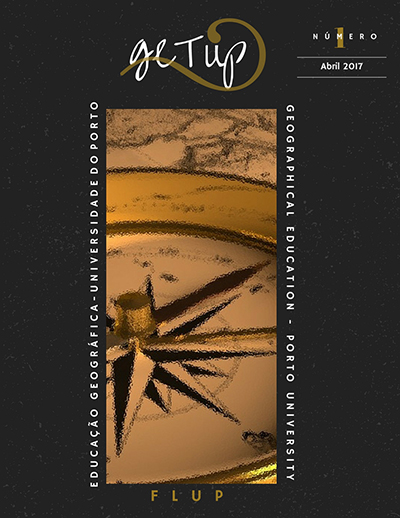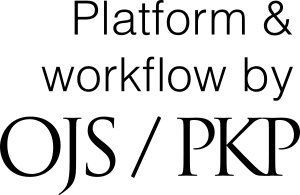Saídas de Campo no Ensino da Geografia: Uma Metodologia Ainda Atual?
Abstract
De acordo com o ideário científico e pedagógico vigente, o profissional da educação seleciona estratégias, implementa atividades didático-pedagógicas adequadas ao contexto da ação educativa e reflete sobre as suas práticas. Atualmente, privilegiam-se as metodologias ativas, em que o aluno tem um papel central na descoberta e na construção da sua própria aprendizagem e o professor surge como o promotor e o orientador dessas mesmas aprendizagens. No ensino da Geografia, a implicação do discente na resolução de problemas com expressão espacial, muitas vezes à escala local, promove uma atitude mais interventiva, responsável e crítica contribuindo, simultaneamente, para a sua formação cívica e para a educação geográfica. Com base neste modelo de ensino, consideramos que a promoção de atividades didático-pedagógicas realizadas fora do contexto sala de aula apresenta grande valor educativo.
A relação da Geografia com a observação direta remonta à sua origem. Desde cedo, o trabalho de campo foi considerado uma metodologia essencial no estudo da Geografia, na sua dupla vertente: científica e pedagógica. Contudo, ao longo do tempo, a adoção de Saídas de Campo não foi, um processo linear nem imediato. Os momentos de afirmação desta metodologia aconteceram segundo os interesses de cada escola, o paradigma vigente e as exigências históricas e económicas próprias de cada época. Algumas vezes, os avanços foram travados por ruturas na evolução do pensamento geográfico e estas descontinuidades fizeram com que a prática de campo fosse valorizada de forma intermitente.
References
Alegria, M. F. (2002). As recentes alterações no currículo obrigatório de geografia em Portugal (1989-2001). Finisterra, XXXVII (73), 81-98.
Alves, M. L., Brazão, M. & Martins, O. (coord.) (2001). Programa de geografia A – 10º e 11º anos - cursos científico-humanísticos de ciências socioeconómicas e de línguas e humanidades - formação específica. Lisboa: Ministério da Educação – Departamento do Ensino Secundário.
Ausubel, D. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune & Stratton.
Alves, M. L., Brazão, M. M., Câmara, A., Ferreira, C. C. & Silva, L. U. (2002). Orientações curriculares de geografia para o 3º ciclo. Lisboa: Ministério da Educação - Departamento da Educação Básica.
Claudino, S. (1988). O trabalho de campo em geografia. Apogeo, (1), 4-6.
Claudino, S. (2000). O ensino de geografia em Portugal uma perspectiva. Inforgeo, (15), 164-204.
Claval, P. (2006). História da geografia. Lisboa: Edições 70.
Galego, J. (1984). Algumas reflexões sobre o estudo da geografia em Portugal. Finisterra, XIX (38), 237-262.
Galego, J. (1990). Evolução recente dos programas de geografia do ensino secundário. Aprender, (10), 8-14.
Godoy, I. & Sánchez, A. (2007). El trabajo de campo en la enseñanza de la geografía. Sapiens, 8 (2), 137-146.
Justen, R. & Carneiro, C. (2009). A importância dos trabalhos de campo na disciplina geografia: um olhar sobre a prática escolar em Ponta Grossa. [Atas do] 10º Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia. Portalegre, disponível em www.agb.org.br/XENPEG/artigos/GT/GT4/tc4%20(64).pdf, acedido em 22/07/2016.
Leal, D. (2010). As saídas de estudo na aprendizagem da geografia e da história. Relatório Final para a obtenção do grau de Mestre em Ensino de História e Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. FLUP, Porto.
Lemos, E. S. (s/d). A educação geográfica em Portugal no virar do milénio – constrangimentos e desafios – contributos para uma reflexão. Actas do II Colóquio de Geografia de Coimbra, nº especial de Cadernos de Geografia, 175-176.
Neves, K. F. T. V. (2015). Os trabalhos de campo no ensino de geografia: reflexões sobre a prática docente na educação básica. Ilhéus -Bahia: Editus.
Okunrotifa, P. O. (1988). Recolha de informação. Apogeo, (1), 14-15.
Orion, N. (1993). A model for development and implementation of field trips as an integral part of the science curriculum. Field Trips, School Science and Mathematics, 93 (6), 325-331.
Orion, N. & Chaim-Ben, K. (1997). Relationship between earth-science education and spatial visualization. Journal of Geoscience Education, (45), 129-132. Apud Filipe, F. & Henriques, M. H. (2014). O Trabalho de Campo como estratégia no ensino secundário: um estudo de caso. Captar – ciência e ambiente para todos, 5 (2), 63-74.
Pérez Sánchez, A. & Rodríguez Pizzinato, L. (2006). La salida de campo: una manera de enseñar y aprender geografía. Geoenseñanza, 11 (2), 229-234.
Pimenta, J. R. (2004) – Introdução – Traços de uma biografia científica. In F. Telles Obras de Silva Telles – A ciência geográfica (pp. I-XXXV). Lisboa: Associação Portuguesa de Geógrafos.
Ribeiro, O. (2012). O ensino elementar da geografia. In Ribeiro, O, O ensino da geografia (pp. 147-152). Porto: Porto Editora.
Rodrigues, A. & Otaviano, C. (2001). Guia metodológico de trabalho de campo em geografia. Geografia 10 (1), 35-43.
Seniciato, T. & Cavassan, O. (2004). Aulas de campo em ambientes naturais e aprendizagem em ciências – um estudo com alunos do ensino fundamental. Ciência & Educação 10 (1),133-147. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v10n1/10.pdf, acedido em 26 de março de 2016.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:Autores conservam os direitos de autor e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite a partilha do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir o seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).